Os direitos humanos são direitos que protegem a pessoa, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. No Brasil, os direitos humanos são garantidos pela Constituição Federal de 1988. Logo no primeiro artigo é estabelecido o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Já no artigo 5º há o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e outros importantes direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos.
No mês em que é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o TJGO exibe uma reportagem especial sobre o racismo que, pela Constituição, é considerado crime imprescritível e sem dúvida nenhuma, uma forma de violação dos direitos e liberdades individuais.
A equipe do Centro de Comunicação Social viajou mais de 500 quilômetros para chegar à cidade de Cavalcante, que, além de estar localizada na região da Chapada dos Veadeiros, abriga o maior quilombo remanescente do Brasil. A maior comunidade da região é o Vão do Moleque, lugar marcado pela beleza da natureza, cachoeiras espetaculares, árvores de galhos retorcidos, flores de diferentes formas e nascentes de águas cristalinas. A primeira parada no mirante ameniza o percurso de cerca de 140 quilômetros de estrada de chão. Após quase duas horas de trajeto, nos deparamos com seu Cezário Carvalho de Souza. Ele estava na janela da sua casa, pronto para ir para a roça.

O homem de 55 anos mora sozinho. Ele conta que nasceu e foi criado na comunidade Vão do Moleque. Os três filhos foram para a cidade, trabalhar e estudar. Sua casa é típica entre os Kalungas, feita em adobe e palha. O cenário é um desafio à modernidade. Um cômodo que abriga a cama, fogão e um lugar para sentar. A energia ainda não chegou ao local. O olhar desconfiado revela um pouco da história de luta do seu povo. Ele diz que não tem vontade de sair dali e que apesar de todas as dificuldades, é ali que se sente bem e protegido. “Aqui no meu canto ninguém mexe comigo. Tenho minhas vaquinhas para tomar leite, minha casa, terrinha para plantar minhas coisas”.

Não querer sair dali não quer dizer que ele seja feliz. Ao ser questionado, ele logo responde. “Não tenho nem orgulho de ser kalunga. A gente é um povo que nasce no sofrimento e morre sofrendo”, disparou. Ele vai à cidade uma vez por mês e, segundo ele, não se sente bem. “Não gosto, só vou porque preciso. Sofremos preconceito até do jeito que a gente vive. Tem gente que acha que somos piores, só porque vivemos aqui”, desabafou em silêncio, olhando para uma pequena capela construída em frente à sua casa. “Ali eu vou gastando os dias. É o meu cantinho. A gente é um povo que sofre, mas temos Deus”, completa.
Seguimos viagem e percorremos mais de uma hora de estrada. Isolamento é algo comum entre os moradores, cujos vizinhos mais próximos estão a alguns quilômetros de distância. Na pista, os rios sem pontes são obstáculos. Para chegar a alguns locais somente carro com tração nas quatro rodas. No meio caminho, o cristalino Rio do Prata, que tem águas tão claras que dá até para ver os peixes no meio das pedras. A paisagem do cerrado impressiona com seus buritis e pés de pequi espalhados por toda parte. Há algumas crianças jogando bola, pessoas reunidas nas portas das casas e no meio da estrada, uma venda e uma mesa de sinuca.

Finalmente, chegamos à casa do seu José Marques da Conceição, de 57 anos, conhecido como Zé Sucuiú. Ele quem vem nos receber. Aos poucos, a família toda vai chegando também. São dez pessoas que vivem no local. Além do casal e seus sete filhos, a família está cuidando da sobrinha de 15 anos que ficou órfã. Eles vivem isolados. Para chegar ao lugar são 18 quilômetros depois da estrada principal, também sem asfalto. Os pais vão de vez em quando para a cidade, somente quando precisam ir ao banco, farmácia ou médico, entre outras necessidades incontornáveis. Os filhos vão para a escola, mas com a pandemia, as aulas foram suspensas.

A casa é de barro, com telhado de palha, e foi construída pelo seu Sucuiú. “A gente conseguiu essa terrinha e eu fiz tudo. Até a roça”, disse. A moto e o cavalo que estão parados perto da casa servem para amenizar o cansaço da longa estrada. “Eu não sei contar como cheguei aqui. Meu pai, minha mãe e meu avô já estavam aqui. Sei que nossa história foi toda vida sofrida. Nasci no cabo da enxada”, afirma o Sucuiú. “Não sei o que é essa palavra não”, completa ele, ao ser interrompido pelo filho Marcos Veríssimo dos Santos, de 20 anos, o mais velho. “Meu pai não estudou, ele não sabe o que é isso. Mas acho que ele tem orgulho sim. Eu tenho”, diz ele, se referindo à declaração do pai de que não sentia orgulho de ser Kalunga. O jovem é cheio de sonhos e planos. Ele está se formando em técnico agrícola. “Com muito orgulho e luta estou conseguindo meus estudos. Aqui pra nós, as coisas não são fáceis. Quero ajudar minha família, eles não tiveram a mesma oportunidade que eu”, comenta.

Marcos e o irmão, Marcelo dos Santos da Conceição, de 18 anos, são os que mais falam. Eles sabem de sua história de luta, mas acreditam que o futuro vai ser melhor. “A gente vive difícil, mas vai melhorar. Há pouco tempo não existia nada, nem estrada aberta. Hoje, o povo consegue achar a gente. Vocês não chegaram aqui?”, questiona. Marcos conta que, por viver na comunidade, às vezes, em suas idas à cidade ou à escola, vê as pessoas o chamaram de "kalungueiro". “Não faço nada, sou mesmo, mas sei que eles chamam para me diferenciar. Não vou brigar por isso, continuo e sigo a minha vida. Agora, se me falarem mal, eu sei que é crime”. O irmão também tem a mesma consciência. Ele sabe que o racismo vai acontecer. “Não é o certo, mas vai sim. Meu pai, minha mãe já sofreram. Para algumas pessoas somos diferentes por sermos kalungas, negros, pobres e descendermos de escravos”, desabafa.

Diferente do pai, Marcos tem consciência de sua história. Ele conta que foi o negro que ajudou a construir o Brasil. “Escravo é quem não tem profissão, estudo. Pode ser o branco também”. Cada um dos filhos de seu Sucuiú tem um sonho. “Meu sonho é ser policial”, diz Naiane, de 10 anos. Já o Josiene, de 12 anos, é ser vaqueira. “Eu gosto é de ficar andando a cavalo e brincando com o gado”, afirma. Marcelo quer ser jogador de futebol e Jailson, de 16 anos, queria que a casa tivesse energia para ver televisão. Eles usam a internet do vizinho, que fica a 6 quilômetros da casa deles. Todos os filhos do casal ajudam a cuidar da roça. “Aqui é um ajudando o outro”, frisa Marcelo.

“A escola foi um dos lugares que eu mais sofri preconceito”, diz adolescente representante dos quilombolas
Kalunga e com apenas 15 anos, Safira Rodrigues dos Santos Rosa é conhecida pelos moradores das comunidades e da cidade de Cavalcante. A jovem é integrante do Comitê Estadual de Participação do Adolescente e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Nacionalmente, Safira representa as crianças e adolescentes quilombolas.

Com esse currículo, a adolescente, filha, neta e bisneta de kalunga é referência e exemplo para outros jovens. A menina mora com a mãe, na entrada do município de Cavalcante, e tem consciência de suas oportunidades. “Meus pais vieram para a cidade para dar para mim e para a minha irmã estudos”, conta. Mesmo assim, ela não escapou de ser vítima de preconceito racial. “A escola foi um dos lugares onde eu mais sofri preconceito. Chegou ao ponto de, eu mesma, não aceitar a minha cor. Eu queria pegar uma tinta branca e jogar em mim”, relata. “Minhas colegas riam do meu cabelo, falavam que ele era duro, de bombril, e eu alisei, mas ele caiu”, lembra.

Consciente, informada e com oportunidade de estudos, Safira sonha em um dia ver seu povo “mais livre”. Para ela, o ideal seria que não existisse preconceito e, sim, mais união. “Sei que não sou diferente de ninguém, carrego a história da minha família, do meu povo. Eu tenho orgulho de ser Kalunga, sim. Se eu estou aqui é porque teve luta e uma grande história. Ser mulher negra é trazer na cor da minha pele, no meu sangue, no meu sorriso a história dos meus ancestrais. A gente é um povo forte. Ser Kalunga é ser forte”. Segundo ela, os kalungas estão ganhando seu espaço e o que é mais importante, o seu valor.
Assim como Safira, a jovem kalunga Mariele Vieira Rosa, de 17 anos, também mora em Cavalcante. Ela faz bolo no pote e doces para vender e trabalha como jovem aprendiz no fórum da cidade. A menor afirma também que já sofreu preconceito. “Já me ofenderam por causa da minha cor. Antes eu sofria mais, mas hoje não. Todos somos filhos de Deus. A cor da pele é o que menos importa”, diz. “Minha família toda é kalunga, a gente era esquecido. Até pouco tempo ninguém sabia de nós”, completa. Para ela, saúde e educação são fundamentais para seu povo. “Aqui não tem faculdade. Para quem mora nas comunidades é difícil chegar socorro e a pessoa pode morrer na estrada. Tenho vontade de sair daqui porque aqui não tem oportunidades para nós”, finalizou.

“Lutamos para manter nossas tradições, cultura, história e memória. Isso não quer dizer que queremos manter a miséria”, diz morador de comunidade
O lavrador Cirilo Santos Rosa, de 56 anos, morador da Comunidade Engenho, sabe contar toda a história de seu povo. História essa que foi passada de geração em geração. Segundo ele, o quilombo kalunga é uma herança da escravidão. Apesar do passado sofrido, ele luta para que suas raízes jamais sejam esquecidas. “Lutamos para manter nossas tradições, cultura, história e memória. Isso não quer dizer que queremos manter a miséria”, fala.
Segundo ele, são anos de história. “A gente tem muita luta, mas também tem muita história”, afirma. Presume-se que, desde o século 18, os Kalungas estavam na região goiana. Porém, a primeira referência pública sobre essa população foi em 1962 e foi somente em 1982, por meio de um estudo que eles começaram a ser reconhecidos como comunidade. Ele lembrou que a associação da qual já foi presidente foi criada em 2009. “A luta é diária para sermos ouvidos, aos poucos vamos sendo respeitados, mas tem as pessoas que abusam”, fala, ao ser questionado como que ele acha que as pessoas os veem hoje. “Uma vez fui chamado de urubu por uma senhora. A gente sente bastante, mas é necessário fazer vista grossa de vez em quando”, conta.

Para ele, levar informação a todos, inclusive dentro da própria comunidade, é fundamental. Há relatos de kalungas terem vergonha na sua história, outros negam suas origens para não sofrerem ou, para, pelo menos, diminuir o preconceito. “Nas nossas escolas é ensinado a se identificar como kalunga e não ter preconceito. Levando conhecimento e repassá-lo”.
Para juiz, políticas públicas são necessárias para o combate ao racismo estrutural
O juiz da comarca de Cavalcante, Rodrigo Foureaux, destaca que no Brasil o racismo surgiu justamente da escravização dos índios e, posteriormente, dos negros africanos trazidos pelos navios negreiros, porque os portugueses e espanhóis colonizadores julgavam que índios e negros eram pessoas inferiores e utilizavam da sua mão de obra escrava para se enriquecer. “A despeito da Lei Áurea, em 1888, pôr fim à escravidão, é bem verdade que ela ainda hoje existe em nossa sociedade, haja vista que comumente vemos notícias de práticas escravistas pelo Brasil por parte de alguns fazendeiros. Desse modo, não houve propriamente um fim da escravidão e isso é prova de que esse comportamento influencia gerações ao longo dos tempos contribuindo para práticas racistas. A prova disso é a necessidade da criação de Leis como o Estatuto da Igualdade Racial e de ações afirmativas para confirmarem a igualdade entre todos prevista na Constituição Federal”, explica.
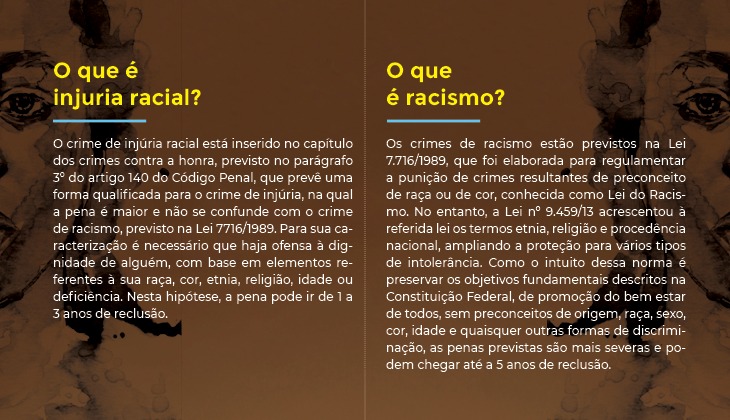
De acordo com o magistrado, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, o STF decidiu que são constitucionais as cotas raciais. Além disso, entendeu-se que a utilização do critério étnico-racial pelo Estado era possível para discriminação positiva de modo a estimular a inclusão social de grupos excluídos.
“Isso tudo indica a existência de um racismo estrutural, ou seja, um conjunto de ações e discursos praticados de forma consciente ou inconsciente que valoriza um grupo social ou étnico-racial em detrimento de outro. O racismo estrutural decorre de um processo histórico e político. São necessárias políticas públicas e ações afirmativas para combater o racismo estrutural”, pontua.
Dentro desse contexto, segundo ele, povo kalunga “infelizmente, ainda é vítima dessas ações racistas, seja com atendimento discriminatório e preconceituoso, seja com a prática de grilagem de suas terras, o que constituem manifestação do racismo estrutural”. Assim, para o juiz, a realização de políticas públicas direcionadas à conscientização da população acerca da importância do povo Kalunga para formação do povo brasileiro, com valorização da sua cultura, é fundamental para o combate ao racismo.

Para ele, a representatividade do povo Kalunga em ações dos três poderes como participação em eventos e em conselhos é uma forma de se combater o racismo. “Levar a público a histórica dos Kalungas é uma forma de valorizá-los e demonstrar a sofrida história que possuem e como lutaram para quebrar a escravidão e lutam até hoje para combater o racismo. Ações como palestras e cursos que façam parte da grade curricular do ensino obrigatório, por ser uma parte da história do mundo e do Brasil, são medidas importantes”, finaliza.
De acordo com o magistrado, a melhor decisão para sua carreira foi iniciá-la em Cavalcante, pois, acima de qualquer dificuldade logística ou estrutural, o aprendizado de vida é impagável. “Enquanto ser humano, foi uma escola de vida, em que ficamos mais humildes e aprendemos a verdadeira essência da vida, que é a riqueza de cada pessoa. Não me refiro à riqueza financeira, mas ao valor que cada pessoa possui e à busca incessante pela dignidade. Enquanto profissional, foi um laboratório – e tem sido – de aprendizagem. O juiz em Cavalcante faz de tudo um pouco, judicial e extrajudicial, aprende muito com os servidores antigos e com os processos dos mais simples aos mais complexos. É uma comarca que vale muito a pena trabalhar”. (Texto: Arianne Lopes / Fotos: Cecília Araújo - Centro de Comunicação Social do TJGO)

